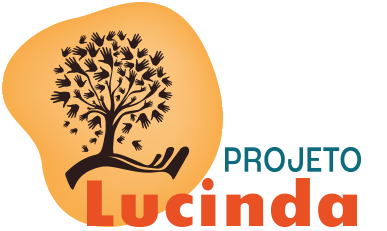Lucinda Ferreira, considerada uma das precursoras dos estudos sobre a Libras, foi também a segunda pesquisadora a registrar os sinais ka’apor. Em seus escritos, ela propôs um contraste marcante entre os contextos sociais dos surdos urbanos e dos surdos ka’apores. Nos centros urbanos, os surdos eram pressionados, por meio de terapias e do ensino escolar, a aprender a oralizar — isto é, a falar —, sendo muitas vezes proibidos de utilizar a língua de sinais. Essa proibição restringia o desenvolvimento dos sinais a espaços informais e marginalizados entre os próprios surdos.
Já entre os Ka’apor, a situação era bem diferente: os ouvintes também sinalizavam, e os surdos estavam integrados à vida social, mesmo que não se igualando totalmente aos ouvintes. Ferreira utilizava esse exemplo como crítica à educação de surdos de então que priorizava exclusivamente o ensino da língua dominante falada, o português. Segundo ela, os defensores do oralismo — que insistiam (e talvez ainda insistam) em que os surdos dominem o português falado — atribuíam à língua de sinais a responsabilidade pelo isolamento social dos surdos em relação à comunidade ouvinte.
Em contraposição, Lucinda Ferreira (1985:4) argumentava, com base em sua pesquisa entre os Ka’apor, que o uso exclusivo da língua de sinais por uma pessoa surda não impede sua interação com os ouvintes. Pelo contrário: quando há interesse mútuo na comunicação, são os ouvintes que aprendem a língua de sinais, permitindo a plena participação do surdo nas atividades coletivas. Lucinda evidenciou uma lógica inversa àquela das escolas e instituições urbanas.
A grande questão continua atual: compreender os sinais em suas diferentes matrizes socioculturais — especialmente fora dos centros urbanos e das tradições institucionais europeizadas, que historicamente moldaram os estudos sobre línguas como a Libras — é fundamental para ampliarmos nossa noção do que é uma língua, do que pode ser linguagem, e para reconhecermos a língua como um meio de vínculo social e de acesso a direitos. Não é a língua de sinais que marginaliza os surdos, mas o modo como determinada sociedade escolhe ou não incorporá-la em seus próprios modos de ver e de viver.
Poucos nomes no Brasil foram tão pioneiros nesse sentido quanto Lucinda, que ousou comparar, já nos anos 1980, os sinais usados por surdos urbanos com os sinais do povo ka’apor, desestabilizando a normatividade da escola e do Estado, com a idealização da língua única. Sua atenção às línguas de sinais como sistemas legítimos e diversos — inclusive fora dos contextos escolares e urbanos — fundou debates que só muito mais tarde ganharam fôlego na linguística.
Lucinda demonstrou que, entre os Ka’apor, os sinais não marginalizam: são partilhados entre ouvintes e surdos. Ela mostrou, também, que o canal gestual não é apenas uma adaptação visual da fala, mas um modo de existência da linguagem que tem suas próprias potências e limites — como no caso das cores ou da expressão do tempo. Suas hipóteses sobre a restrição do canal gestual à representação de certas categorias semânticas, como as cores, alcançam os fundamentos do pensamento.
É urgente reconhecer essa herança e retomá-la com a atenção que merece. Lucinda Ferreira não apenas abriu caminhos: ela apontou horizontes ainda por explorar. Reler seu trabalho hoje é uma forma de pensar a linguística das línguas de sinais não como técnica ou normatização, mas como política e como gesto de escuta radical às formas outras de viver e significar o mundo.
A visão de Lucinda Ferreira sobre a pesquisa de campo – rapidamente exposta no capítulo 10 de seu livro – era igualmente coerente e fundadora de princípios teóricos que devemos tomar como ponto de partida para qualquer pesquisa linguística. Lucinda afirmava que estudar línguas de sinais exigia o registro em vídeo — algo que ela considerava “praticamente obrigatório”. Hoje sabemos que essa exigência é mais do que justificada: o trabalho com vídeo é absolutamente necessário, não apenas no estudo das línguas de sinais, mas também das línguas faladas, uma vez que todas envolvem dimensão gestual, corporal, espacial e visual. Nesse sentido, as línguas de sinais foram vanguardistas: ao imporem o vídeo como ferramenta metodológica, anteciparam uma virada mais ampla na linguística contemporânea em direção à assim chamada multimodalidade. A incorporação do corpo como parte constitutiva da linguagem é uma das maiores lições que essas línguas nos oferecem.
Tornada evidente pelas línguas de sinais, nos obriga a reconhecer que todas as línguas são corporais, e que a linguística, para ser completa, precisa registrar o movimento, o espaço, a expressão.
Por outro lado, algumas formulações metodológicas de Ferreira merecem atualização: sua preferência por surdos filhos ou netos de surdos como consultores principais reflete uma concepção inspirada em modelos idealizados de comunidades sinalizantes, como aquelas das línguas de sinais europeias ou institucionalizadas. No entanto, em contextos como o da Libras — e de modo ainda mais evidente em línguas de sinais indígenas ou emergentes —, os ouvintes desempenham papéis essenciais na transmissão, uso e expansão da língua. Nossos próprios projetos têm demonstrado que não apenas surdos com trajetória “modelo” são agentes linguísticos centrais : muitos ouvintes, filhos de surdos, parentes, amigos ou vizinhos, tornam-se agentes centrais da vitalidade linguística e cultural dos sinais.
Por outro lado, Ferreira advogava a favor da valorização do conhecimento surdo, ao propor não apenas trabalhar com surdos fluentes, mas também formá-los como pesquisadores. Esse gesto desloca a figura do “informante” passivo e anônimo para a de colaborador qualificado. Desse modo, propunha uma metodologia que valorizasse os surdos fluentes como co-pesquisadores. Em sua equipe, surdos deixavam de ser apenas informantes para assumirem funções centrais no levantamento, na transcrição e na análise dos dados. Essa prática refletia uma ética de pesquisa comprometida com a autonomia epistêmica dos surdos e com a valorização da língua em seu uso real.
Como sugere Lucinda Ferreira (1995), o estudo da maneira como expressamos o conceitos abstratos, como tempo através das línguas de sinais deve seguir ideias tais como expressas em metáforas conceituais, ou seja, entender os padrões mentais que organizam nosso vocabulário e nossa gramática (como se sabe, a proposta de Lakoff e Johnson, 1980). O tempo, nesse sentido, depende de imagens e experiências espaciais, que são convencionalmente relevantes, para ser compreendido. E foi isso que interessou Lucinda a comparar a figuração da referência temporal em línguas de sinais de origens diversas. Mesmo sendo algo básico na nossa vida, o tempo não é uma coisa simples ou direta na linguagem — ele se baseia em ideias mais profundas que precisam ser analisadas. As línguas de sinais têm a vantagem de fazer o tempo presente em imagens.
Assim como um relógio transforma o tempo em algo visível, usamos imagens do espaço para representar o tempo. Por exemplo, podemos imaginar o tempo como um caminho: o passado está atrás, o futuro está à frente e o presente está onde estamos agora, perto do nosso corpo. Também podemos pensar no tempo como uma distância entre eventos — algo pode ter acontecido há muito tempo (passado distante) ou vai acontecer logo (futuro próximo). Nada disso existe na língua de sinais ka’apor. Devemos reimaginar o tempo através das novas imagens apresentadas.
Essa questão não é simples de resolver. Os sinais temporais da língua de sinais ka’apor são apontamentos para locações que sol e lua assumem no decorrer de sua trajetória diária. São índices dêiticos que fazem referência às posições dos astros, segundo subdivisões convencionais de sua trajetória pelo céu. São como um ponteiro terrestre de um relógio que aponta para os horários celestes. Os ouvintes ka’apores utilizam-se sistematicamente do mesmo sistema de apontamento, conjugado com suas expressões temporais da língua falada.