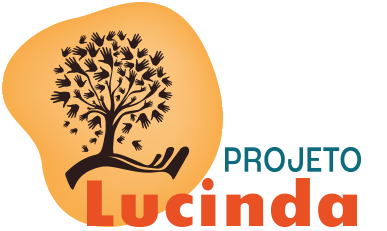










Projeto Lucinda
O Projeto Lucinda foi desenvolvido, inicialmente, entre os anos de 2023 e 2025, e contou com financiamento da FAPESP, (Processo 2022/05962-4), no âmbito do Chamada LinCar Abordagens inovadoras na pesquisa em Linguagem, Comunicações e/ou Artes, de 2022. O Projeto Lucinda, coordenado pela Profa. Dra. Angélica Rodrigues (Unesp), nasce da iniciativa de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores do Brasil, vinculadas/vinculados a universidades brasileiras (UFPE, UFRR, UFPR, UFU) e estrangeiras (Universidade Paris 8, Universidade de Austin-Texas), interessadas/interessados no estudo das línguas de sinais usadas por membros surdos e ouvintes de comunidades surdas localizadas fora dos centros urbanos e/ou isoladas socioculturalmente.
Dois aspectos principais unificam essas comunidades e dizem respeito ao fato de que as línguas de sinais dessas comunidades ou se diferem totalmente da libras, língua de sinais nacional e institucional do Brasil, ou trazem marcas do contato entre duas línguas de sinais e de que, nessas comunidades, a língua de sinais local é compartilhada por membros surdos e ouvintes, sendo que os ouvintes constituem o maior número de sinalizantes.
Nossa equipe de pesquisa coletou dados para a constituição de uma amostra composta por dados de sete línguas de sinais que se inscrevem sob dois subgrupos principais:
- O primeiro subgrupo é formado por línguas de sinais de microcomunidades surdas, social ou familiarmente organizadas, que se encontram geograficamente isoladas de grandes centros urbanos e com histórico de alta natalidade de pessoas surdas.
As línguas de sinais desse primeiro subgrupo são utilizadas nas micromunidades de Buriti dos Lopes (PI), Tiros (MG) e Várzea Queimada (PI), Vila de Fortalezinha (Ilha de Maiandeua, PA), Centro Novo do Maranhão (MA) e Centro do Guilherme (MA). É importante destacar que a língua de sinais utilizada nas duas últimas localidades é a Língua de Sinais Kaapor, tratando-se, portanto, de uma língua indígena de sinais. - O segundo subgrupo é constituído por microcomunidades surdas em situação de contato bilíngue, unimodal, sinalizado, ou seja, entre duas línguas de sinais.
Nesse segundo subgrupo temos as línguas de sinais de Umuarama (PR) e de Boa Vista (RR), onde observamos, respectivamente, situação de contato linguístico da Libras com a língua de sinais americana (ASL) e da língua de sinais venezuelana (LSV) com a libras. É importante destacar que as situações de contato nessas comunidades divergem profundamente, uma vez que, em Umuarama, o contato com a ASL se deu por conta da criação da associação de surdos da cidade por uma casal americano, e, em Boa Vista, o contato da libras e da LSV é motivo por questões de migração forçada, fazendo com que surdos venezuelanos entrem em contato com a libras, produzindo uma sinalização própria marcada por sobreposições dos dois sistemas linguísticos.
A amostra do Projeto Lucinda contempla, portanto, línguas de sinais utilizadas em áreas descentralizadas e com características bastante heterogêneas, o que viabiliza discussões sobre emergência linguística e contato unimodal.
Metodologia de coleta de dados
O contato com as comunidades se deu a partir de viagens de campo, em que nossa equipe pode conviver com os membros de cada comunidade, com seus hábitos e cultura, ter uma vivência com suas respectivas línguas de sinais, para então iniciarmos a coleta de dados.
Sendo assim, a metodologia de coleta de dados compreende estágios de trabalho que se enquadram na perspectiva da etnografia linguística para o estudo de línguas de sinais (Hou; Kusters, 2020)[1]:
- trabalhos de campo longos que permitem a aprendizagem da língua de sinais estudada;
- gravação de vídeos de interações sociais;
- tarefas de elicitação;
- equipe composta por pesquisadores surdos e ouvintes;
- trabalho de cooperação desenvolvido com membros surdos e/ou ouvintes da comunidade, que ficaram responsáveis em coordenar as sessões de gravação, auxiliar na tradução, quando possível, de sinais.
Nossa metodologia de registro e coleta de dados inclui os seguintes métodos:
i. Entrevistas semiestruturadas: organizadas para coletar as informações sobre a genealogia das famílias e/ou comunidade e o status linguístico de cada sinalizador. Na entrevista, foram feitas perguntas sobre a quantidade de familiares usuários do sistema familiar/comunitário, a fluência que cada um considera ter do sistema, o tempo em que convive com os surdos sinalizadores, as línguas que cada um domina/utiliza no seu dia a dia, a avaliação linguística que eles fazem do código, questões sobre o conforto linguístico, diferenças entre as sinalizações dos núcleos familiares e algumas questões de intuição linguística que os falantes têm sobre o uso do sistema.
ii. Entrevista sociolinguística: metodologia básica de coleta de dados da sociolinguística variacionista, ou laboviana, que visa a alternância de estilos de fala em um continuum que vai da máxima a menor da atenção prestada à fala (LABOV, 2008). Seguindo, pois, esses preceitos, as entrevistas sociolinguísticas foram organizadas de modo a estimular a produção de textos que podem se encaixar nos formatos narrativa de experiência pessoal, texto descritivo, relato de procedimento e relato de opinião.
iii. Haifa Clips: utilização de Haifa Clips que consistem em 30 videoclipes curtos de duração entre 2 a 4 segundos cada, originalmente desenvolvidos por Sandler et al. (2005). O material é construído baseado em 13 sentenças intransitivas, 13 sentenças monotransitivas e 4 sentenças bitransitivas o que nos possibilita ter uma ideia geral sobre como as diferentes valências verbais podem ser representadas nesse sistema. Um exemplo de sentença intransitiva é um clipe em que “Uma garrafa de água cai sozinha” e uma sentença transitiva, o sinalizador assiste a “Uma mulher penteando o cabelo de uma criança” ou vice-versa. O uso dos Haifa clips é positivo por ser uma metodologia já utilizada para investigação de várias línguas de sinais de comunidades no mundo, e isso facilita a comparação e o intercâmbio de dados para pesquisas. A tarefa consiste em assistir aos clipes em um laptop e contar o que viram para um outro sinalizador nativo sobre o que foi visto na cena. O interlocutor, então, é perguntado se compreendeu o que viu na sinalização deve marcar, entre 3 opções disponíveis em um material impresso, que imagem corresponde ao que foi sinalizado. Essa parte da tarefa fornece evidências sobre o estágio de convencionalização do código utilizado pela família.
Considerando as especificidades das comunidades investigadas, organizamos duplas primordialmente formadas por surdos e ouvintes sinalizantes. Desse modo, as pessoas surdas assistiam aos clips e sinalizaram o que viram para o outro participante ouvinte. Nosso objetivo foi verificar o grau de conhecimento linguístico compartilhado entre eles e a consistência/estabilidade da sinalização.
É preciso ressaltar, no entanto, que a aplicação dos Haifa clips não foi produtiva de modo uniforme nas comunidades. Em Umuarama, por exemplo, os surdos não se engajaram na sinalização, levando à suspensão da aplicação dessa metodologia para evitar o desgaste com os participantes, que estavam muito mais interessados em produzir narrativas pessoais.
iv. Narrativas Pessoais: Foram selecionados pelo menos dois informantes para contar histórias locais, práticas culturais, costumes, lendas, rituais religiosos ou quaisquer outras atividades sociais que os surdos estejam envolvidos e que utilizem a língua de sinais local. Essa coleta visa valorizar as narrativas produzidas pelos surdos na sua própria língua. demonstrando que estas línguas de sinais, apesar de jovens, são utilizadas pelos surdos para as mais diversas atividades diárias, como: ensinar a trançar, aprender uma receita, contar uma história familiar antiga, fazer uma reza, ou outros.
Disponibilizamos aqui no nosso site dois vídeos de cada comunidade, com legendagem e voz em português, além do arquivo eaf para acesso à anotação feita no ELAN.
v. Elicitação de sinais: Foram realizadas atividades de elicitação de sinais a partir de uma lista de imagens a fim de que pudéssemos organizar um glossário básico de cada uma das línguas de sinais. Nosso objetivo é discutir tanto a formação dos sinais como aspectos sociolinguísticos ligados às motivações gestuais para a criação de sinais.
Organizamos aqui no nosso site uma lista dos sinais coletados. No site, na aba relativa a cada comunidade estudada, estão disponíveis dois vídeos de narrativas pessoais e seus respectivos arquivos “eaf“, extensão para acesso da anotação no Programa ELAN. Esses vídeos contêm legendas e áudio em português e estão igualmente traduzidos para libras.
Além disso, organizamos um glossário de cada língua de sinais a partir de uma lista de palavras previamente selecionadas. Esses dados podem ser acessados tanto na aba de cada comunidade como também na aba “Glossário” do site, onde é possível acessar o glossário comparado de todas as línguas.
[1] Hou, L,. & Kusters, A. (2020). Sign languages. In Karin Tusting. (Ed.) The Routledge handbook of linguistic ethnography, 340–355. Routledge.